Tempo estimado de leitura: 6 minutos
Quando a dona de casa Roseli Placedina Pires recebeu a notícia da morte encefálica de seu filho Alex Gravino Pires, em 2007, à época com 21 anos vítima de um acidente de motocicleta, na Avenida Colombo, um misto de sentimentos tomou conta dela e do esposo, Mario Alves Pires.

Acolhidos em uma sala, foram amparados no momento difícil, no qual outro assunto, urgente, também teve de ser tratado: a doação dos órgãos do filho – do único filho – para que outras vidas pudessem ser salvas.
“Nós não titubeamos em nenhum momento. Quando perguntaram se nós autorizaríamos a doação (no Brasil, são os parentes de primeiro grau, em grande parte esposo/esposa e pai e mãe, que autorizam as doações de órgãos), não pensamos duas vezes. Só olhamos um para o outro e dissemos ‘sim, pode doar tudo’. Para onde ele vai, juntos de Deus, não vai precisar”, considerou Roseli.
Mãe de um único filho, Roseli e o marido seguiram por mais de dez anos até outro evento interromper uma saúde considerada “de ferro”. Após sentir sintomas por algum tempo – e peregrinar em busca de diagnósticos, sempre inconclusivos -, viu-se em uma encruzilhada, agora do outro lado: era ela quem precisaria de um órgão, mais especificamente dos rins. Para quem nunca havia tido um grande problema de saúde – o qual hoje acredita que foi por uma infecção -, a notícia causou impacto.
“Quando eu fiz aquilo (aprovar a doação dos órgãos do filho), lá atrás, eu não fazia ideia de que precisaria depois. E é assim mesmo, nós precisamos fazer pelos outros sem saber para quem fazemos. Ninguém veio me perguntar quem eu era para me doar os rins, e eu ganhei uma nova vida”, emendou, emocionada. “As pessoas precisam doar. Eu gostaria de dizer isso a todos os que têm a oportunidade”.
Desde 2017 com os novos órgãos, Roseli realiza o tratamento com nefrologista, sem perder de vista que, sem cuidados, pode voltar a precisar da hemodiálise – que “lhe deu a vida” que os rins parados tiraram. Hoje, é capelanista em hospitais de Maringá, junto do marido. “As pessoas querem e gostam de rezar, de orar. Eu faço pelos outros”.
Compromisso com o outro
A história de Roseli representa uma entre milhares de outras experiências de familiares que, mesmo em um momento de grande dificuldade e sofrimento, a morte, optaram pela doação de órgãos. Porém, no Brasil, o percentual de familiares que recusam a doação de órgãos de entes falecidos ainda é alto: cerca de 45% das famílias rejeitam qualquer doação. Os dados são de pesquisa recente promovida pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Os dados do Paraná, por outro lado, são mais otimistas: cerca de 24% das famílias rejeitam a doação. No Hospital Universitário (HUM) da UEM, a recusa é ainda menor: somente 14% dos familiares rejeitam o ato.
Os dados positivos refletem o compromisso diário da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) no acolhimento de pacientes e familiares, muito antes do momento final. “Desde que o paciente e a família entram no Hospital, nós acolhemos e acompanhamos todo o processo”, enfatizou a enfermeira Rosane Almeida, à frente da CIHDOTT do HUM.
A Comissão é uma das 62 CIHDOTT’s espalhadas pelo Paraná, que auxiliam na captação de órgãos para transplantes em todo o Estado e, também, no Brasil. A Comissão atua num trabalho ativo e numa avaliação de pacientes neurocríticos que podem ter risco de morte encefálica, ou uma evolução para esse tipo de morte. Em sua maioria, conta Rosane, são pacientes entubados no Pronto Socorro e outros setores com pacientes considerados críticos. “O diferencial do nosso atendimento é que fazemos um acolhimento prévio para a família, pois desde a entrada (do paciente) ela está angustiada esperando notícias”, explica.
“O trabalho de acolhimento que fazemos faz muita diferença nesse processo. Algo que digo sempre, até nos nossos treinamentos, é que nós vemos a doação como uma consequência do acolhimento, depois dos esclarecimentos e de a família receber informações esclarecidas sobre o processo. As pessoas trazem muitos mitos que envolvem o processo de doação. Nós trabalhamos para desmistificar para que a família tenha tranquilidade para tomada de decisão. Para que seja um processo esclarecido e consciente”, considerou Rosane. O trabalho da CIHDOTT é multiprofissional. Participam da comissão enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais.
Entre os mitos, os mais frequentes são a descaracterização do corpo. “Muitos acreditam que não poderão fazer nem o velório com o caixão aberto. Há uma série de mitos que nós desconstruimos no processo com a CIHDOTT. Quando a família vai a fundo, ela acaba aceitando. Costumo dizer que há uma taxa de recusa porque não chegamos no âmago da questão com eles”, ponderou Rosane.
Autorização em vida
No Brasil, há uma “hierarquia” de autorizações do processo de doação de órgãos: primeiro, podem autorizar familiares de primeiro e segundo grau (esposo/esposa, pai/mãe, irmão/irmã, netos etc.) “Já houve processos em que, na Justiça, conseguiram autorização para doação de órgãos de pessoas que não tinham nem conjuge nem parentes de primeiro grau. Só filhos adotivos”, comenta a enfermeira.
O mais importante, contudo, é o consentimento em vida do indivíduo, que pode, ainda que só verbalmente, autorizar a doação. “Isso para a família já traz conforto para tomar a decisão. Afinal, estamos falando do corpo do ente querido e a vontade dele pode e geralmente é levada em consideração”, avalia.
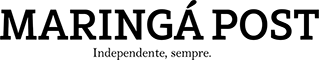





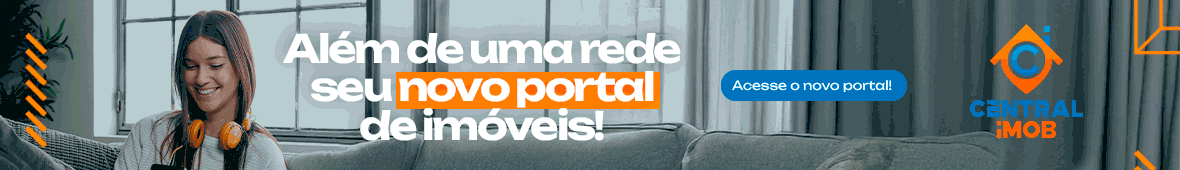

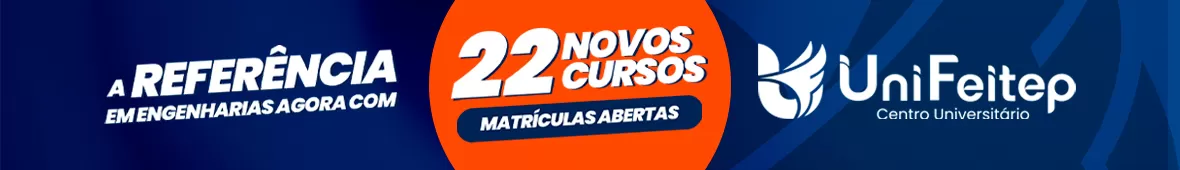
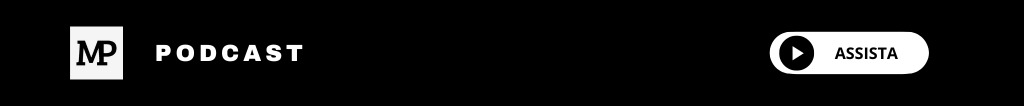
Comentários estão fechados.