De acordo com o Dicionário Houaiss, a palavra travesti é definida como “substantivo de dois gêneros (sXX): 1. Artista que, em espetáculos, se veste com roupas do sexo oposto; 2. Homossexual que se veste e que se conduz como se fosse do sexo oposto”. No entanto, as discussões sobre uma definição que caracterize as travestis são postas em jogo quando analisa-se o contexto social e histórico em que esse segmento está inserido. Ser travesti, mesmo nos dias atuais, é uma característica que leva as pessoas a lutarem pelos próprios direitos.
A organização não governamental Transgender Europe (Tgeu) publicou números sobre os homicídios das travestis no Brasil: de 2008 a 2013 foram 486 mortes. Esse número é baseado nas estatísticas dos casos que são reportados, podendo ainda ser maior, levando em consideração aqueles que não são tratados como crime de homofobia.
A primeira mulher travesti formada no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Naomi Neri, 23, e também presidente do Coletivo TRANSforme Maringá, conta que viveu por muito tempo isolada socialmente e levou anos para entender e colocar-se numa posição social favorável. “Vivi 22 anos de isolamento, aprisionada em um corpo, pois antes da transição eu mesma não me entendia como humana, era sempre um espectro social daquilo que eu imaginava”, desabafa. Naomi relata que, ainda hoje, a letra T dentro da sigla LGBT permanece ofuscada. “Quando falamos que estamos isoladas dentro de um T, é como se fosse uma conotação de isolamento social e político, pois o direito das pessoas trans são os primeiros a serem negociados”, ressalta.
Naomi também destaca que na sociedade a palavra “gênero” ainda gera desconforto pela irresponsabilidade na discussão e aceitação da identidade para que se alcance a igualdade. “O incômodo da palavra gênero vem de desvirtuar o que é gênero. E a figura da travesti é que mais desvirtua. Por isso as travestis são marginalizadas, pois confrontamos com o nosso corpo uma série de definições que a sociedade padroniza.”
Naomi sinaliza, também, que dentro de uma sociedade regida por padrões, o estilo dela não viabiliza discussões de violência ou ações de ódio contra quem ela representa. “O que incomoda não sou eu. Branca, classe média, graduada. Quem incomoda é a travesti garota de programa, que não teve a oportunidade de estar na escola, que coloca o corpo à mostra, pois reafirma uma cultura de periferia”, revela.
Por isso, a posição social que ocupa torna-se um aditivo para que Naomi continue lutando pela garantia dos direitos conquistados pela classe e pela busca daqueles que ainda estão sendo solicitados. “Ainda que me encaixe em muitos padrões onde a violência não me identifica, preciso usar da minha posição de privilégio para lutar por aquelas que não têm essa oportunidade. Não fazemos por nós, mas para dar condição para aquelas que não tiveram”, salienta.

É o que também pensa Jean Carlo Garcia, 33, presidente do Grupo de Homens Trans de Maringá (HTM), coordenador setorial do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (Ibrat) e membro do Coletivo TRANSforme Maringá. Ele conta que ocupar essa posição traz à tona a responsabilidade perante aos que não conseguem exercer as mesmas funções. “Se estou exposto e consegui visibilidade para um grupo, uma representatividade, preciso usar isso para garantir direitos e conquistas. De maneira positiva, precisamos mostrar para a sociedade que não somos cirurgias e hormônios”, explica. Garcia considera auto aceitação um período delicado na vida de uma pessoa da comunidade LGBT, mas a repressão enfrentada pelos homens trans desencoraja muitos desses. “Inicialmente fui bissexual, não conseguia entender.
A partir dos 13, 14 anos, me identificava com a bissexualidade. Depois me identifiquei como lésbica, mas ainda assim tinha alguma coisa que não dava certo, não encaixava. E aí, de uns cinco, seis anos para cá, estudei mais sobre os gêneros e entendi o que estava acontecendo comigo.” Ele destaca que as desconstruções psicológicas já sofridas o fizeram entender o que os homens trans enfrentam, numa forma repressora de identificar e banalizar as discussões sobre gênero. “Tenho algumas fobias. São minhas, não consigo lidar pois são coisas do meu psicológico. Certas vezes, já ouvi coisas como ‘Ué, tem medo? Mas você não é homem? Não pode ter medo!’”, diz.
Para o professor universitário, pesquisador na área da discussão de gêneros nas escolas e militante da causa Márcio Oliveira, é impreterível a participação ativa da comunidade LGBT na conquista de todos os direitos, principalmente na luta contra a transfobia com foco nas travestis. “Elas são o segmento que mais sofre repressão apenas por não se identificarem com o corpo. É notável o desconforto causado pelas travestis enquanto estão no meio social”, revela.
Oliveira ressalta que a necessidade da militância se manter pacífica é essencial para que o cenário de aceitação da comunidade seja comum entre todos os âmbitos sociais. “Militar é de extrema importância. Não se alcança nada e nem se chega a lugar algum se não houver união em um corpo social unitário, que permite discussões amplas e centralizadas no foco principal, a garantia e luta por direitos”, reitera.
Matéria produzida por Randy Fusieger, Priscila Garcia, Adelson Jaques, Gabriel Tazinasso e Heloísa Fernanda.
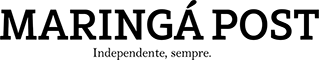
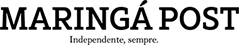

Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.