Mineiro de Cataguases, 56 anos, descendente de italianos, ele tem muitas e ricas histórias para contar. De profissões diversas, entre pipoqueiro, gerente de lanchonete, torneiro mecânico, repórter, editor e, enfim, escritor e também colunista no El País.
O nome Luiz Ruffato é o nome de um homem que vai além da própria literatura: é também cidadão e operário. Numa conversa bem-humorada e leve, falou sobre sua obra, vida e indignações, que passaram pela infância e história da família.
Luiz Ruffato abriu a primeira noite da Flim 2017, numa mesa mediada pelo escritor Luigi Ricciardi, sorteou um livro e contou detalhes do que já fez e do que ainda vai fazer com a carreira. Em novembro, estará em viagem pela Alemanha promovendo suas obras.
Para saber mais sobre a Flim 2017, veja nossa programação completa e acompanhe nossas postagens e redes sociais diariamente. Abaixo, confira a entrevista exclusiva de Luiz Ruffato ao Maringá Post.
Com a palavra, Luiz Ruffato
Qual a importância e o papel da sua história em sua carreira?
Não sei se meus livros prestam para alguma coisa, mas de alguma maneira há pelo menos uma contribuição importante. Eles introduzem na literatura brasileira um personagem que estava (e continua) ausente, que é a classe média baixa. Aí a importância do meu histórico familiar, porque eu venho dessa classe média baixa. Minha mãe era lavadeira, analfabeta; meu pai era pipoqueiro, semi-analfabeto; evidentemente na minha casa não tinha livros. Nasci numa cidade industrial, onde também cresci e vivi num universo de trabalhadores, operários. Esse recorte são os meus livros.
Curiosamente, foi essa parcela que protagonizou a história política brasileira no século XXI, que foi a subida do Lula para a presidência da república e, com ele, sobem valores e problemas dessa classe média baixa. Foi uma coincidência feliz para mim construir minha obra sobre esse universo. Na Flim, o Gonçalo [Tavares] falou sobre “Literatura e Imaginação” e eu sobre “Literatura e Realidade”. Pode parecer um problema, que ele não tem realidade e eu não tenho imaginação, mas não existe isso. Literatura e Imaginação é Literatura e Realidade.
Depois de sair de Cataguases, como foi a transição para se tornar escritor?
Além de ser um caso de um escritor que entrou pela porta dos fundos da Literatura, também sou um cidadão que entrou pelas portas dos fundos da sociedade. Estava destinado a percorrer um caminho mais longo, sendo operário e, o máximo permitido, seria ser um técnico especialista. Não é comum nessa sociedade brasileira extremamente estratificada, mas dei um passo além, que foi entrar para a universidade e me tornar jornalista. Tenho uma vida voltada para um campo diferente da minha origem. Quando tratam da minha origem, não pode ser exemplo, é exceção.
Pesquisando exaustivamente, podemos encontrar um caso em qualquer lugar. Acabo também caindo nesse nicho da exceção, em que um cara que era operário virou escritor.
Foram as histórias que você viveu e conheceu que te deram um novo olhar sobre a Literatura, ou a Literatura deu a você um novo olhar sobre o que vivia?
Sou muito pragmático. Ser escritor não era meu horizonte e, normalmente, quando você vai entrevistar os escritores brasileiros de classe média (e praticamente todos, quase sem exceção, provém de classe média), eles dizem que desde criança queriam ser escritores. Faz sentido, normalmente eles tinham uma biblioteca em casa, alguém próximo que inspirou.
A possibilidade apareceu quando comecei a ler com mais profundidade, na faculdade, e tomei um susto. Percebi que as pessoas na literatura brasileira não trabalham, e não que não tenham profissão, isso elas tem, mas em geral ou não exercem ou não falam sobre trabalho nos livros. Daí comecei a pensar que venho de um ambiente onde o trabalho é fundamental, então pensei, pretensiosamente, em escrever sobre essa questão do trabalho. Isso era com meus 18 ou 19 anos, mas só vim a fazer isso depois de estudar e pensar muito.
Foi consciente a decisão de escrever sobre isso, ao contrário de coisas como ‘Preciso escrever ou vou morrer’ e, não estou ironizando, deve ser verdade para algumas pessoas, mas para mim não é. Se eu não escrever, eu não vou morrer, não vai acontecer absolutamente nada. Não vai mudar nada nem em mim, nem nas pessoas. E talvez [a obra] seja interessante por isso, para tentar oferecer ao leitor uma opção de que a sociedade brasileira é feita dessas diferentes camadas. Quando falo isso, tem gente que diz que eu escrevo pensando no ‘leitor trabalhador e rebaixo a literatura’. Isso não funciona, porque eu não escrevo para o mundo do trabalho, mas sim sobre ele. Não faço esse tipo de concessão e considero extremamente reacionária essa ideia de ‘rebaixar para as pessoas entenderem’, como se as pessoas não tivessem capacidade de entender coisas mais sofisticadas.
E a carreira como jornalista, o que trouxe para a nova, de escritor?
Decepcionante. Rigorosamente nada. (risos) Fui um repórter medíocre e, mesmo depois de anos no Estadão, não tem nada meu lá. Porém, como redator e editor, posso falar que era bom. A única coisa [que ganhei] é, talvez, algo extraliterário, que é a disciplina. Quanto a linguagem ou olhar, nada mesmo.
E se a literatura não se rebaixa para o operário, ela é feita para enriquecer essa classe?
Não me preocupo com isso, juro. Escrevo meus livros e, quem quiser ler, que leia. Não quero atingir ninguém, não sou raio para isso. Mesmo na minha coluna semanal, não me preocupo, só sento e escrevo, mas escrevo para mim. Não tenho controle sobre o que vão pensar lá, e muito menos na Literatura. Nunca vou escrever um livro pensando em alguém.
Sobre seu processo criativo, você volta para as ruas por histórias?
Meu método de escrever é diferente, não acredito em ‘laboratório’. Acho superficial fingir algo que não sou. Gosto de pensar que escrevo com o meu corpo. Não anoto nada, não acordo de madrugada para gravar alguma coisa inspirada… nunca fiz nada disso. Para mim, isso não é verdade. Mas as histórias que escrevo já estão impressas em mim, me deixo afetar pelo outro, mas não superficialmente, e sim numa condição de alteridade. Não ando procurando história, com uma lupa, me apropriando. Quando alguém vem me contar uma história porque eu sou escritor, muitas vezes não tenho nenhum interesse. Só que, do nada, uma frase solta pode me chamar a atenção. É muito mais simples do que pensam.
Dá para dizer que toda sua produção é um exercício de empatia?
Toda arte, de quem quer que seja, é. Mesmo que ninguém leia. Tenho muito carinho por qualquer pessoa que escreva, por mais que seja uma coisa horrível, teve uma dedicação, deu trabalho. Independente disso, quem escreve está procurando o mesmo que eu, um diálogo, e alguns funcionam e outros não. Eu não sei o porquê e duvido que alguém saiba. Não acredito em teorizar.
Pensando em toda essa dificuldade, o escritor é um operário?
Eu sou, mas não sei se os outros são. Trabalho como um para escrever. Só não tenho meta, isso para mim é o suprassumo do capitalismo. A minha relação com o meu patrão, que sou eu mesmo, é de trabalho. E sou isso com muito orgulho, de poder viver com literatura. Ganho dinheiro escrevendo e acho isso honroso. Para mim é uma profissão como qualquer outra.
Como é possível ter tanta fluidez para contar suas histórias em muitas vozes?
Cada uma delas me foi contada por um protagonista diferente, eu só reproduzi. Teria traído ou falhado com eles se tivesse uma única voz. Tem quem ache que é espiritismo, mas para mim existe uma memória coletiva que estamos construindo nesse momento. Meu trabalho é, simplesmente, ir à memória coletiva e deixar que ela fale, singularmente, com cada voz.
O escritor é importante, mas o leitor é fundamental. Com 500 escritores e nenhum leitor, nada acontece, mas com 1 escritor e 5000 leitores, existe escritor. Então, se o leitor está lendo o livro, então ele realimenta essa memória coletiva e forma um ciclo. Não tem nenhum mistério, é preciso saber que não se é dono da própria obra, nem dono da própria voz, não empurrar a história para onde ela não queria ir. Em muitos prêmios que fui jurado a história começa bem, daí o autor não respeitou os próprios personagens.
Pensando sobre voz, a sua voz como colunista é diferente da sua voz como autor?
Totalmente, porque na literatura a minha voz é emprestada pelos personagens, pode ser o oposto de mim e, nas colunas, a voz é do cidadão Luiz Ruffato, que tem o domínio da ferramenta da linguagem. Se alguém me acompanha em um lugar e não em outro, para mim não tem problema.
Como o cidadão Luiz Ruffato se porta no momento político que vivemos?
Na Literatura, não penso nada sobre isso, porque senão ou vou me censurar ou transformo meu livro em panfleto político. Como cidadão, me preocupo com a ampliação do pensamento reacionário, que é diferente do conservador. Conservador é válido, é extremamente importante para balancear a sociedade. Reacionário é fascista, observamos ele crescer e se fortalecer, um grande perigo. Há uma ideia de que é um pensamento das igrejas neopentecostais, e isso é uma desculpa maravilhosa.
Quem pensa assim, na verdade, é a classe média brasileira. Ela que faz aborto, e é contra o aborto. Que cheira cocaína, e lamenta a violência urbana. Que no dia a dia pratica ilegalidades, mas reclama da política em Brasília. É esse o ponto do que vivemos hoje. Por exemplo, nunca a pornografia foi tão explicitada, e daí vem um bando de idiotas querendo censurar pinturas e esculturas, dentro de um espaço de museu, dizendo que vão fazer mal às crianças e adolescentes. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que isso é uma piada. Mas é o que cola numa sociedade hipócrita.
E já se sentiu usado em meio a essa situação?
Tentam, mas eu não deixo. Tem gente que vem me parabenizar pelas minhas origens, mas isso não é pra ser feito, não é legal. Quando me perguntam se eu ‘tenho orgulho de ter nascido pobre’, lamento muito. No começo havia tentativa de cooptação, chamando meu trabalho de ‘literatura operária’. Quer dizer então que os brancos de classe média fazem Literatura, com L maiúsculo, os negros fazem literatura afrodescendente, as mulheres fazem literatura feminina,… e eu sou da literatura operária? De forma alguma.
O mercado é muito inteligente, tenta ser bacana, dar espaço para todo mundo. Tem festival literário que abre ‘mesa LGBT’ ou ‘mesa afrodescendente’ porque é legal para a sociedade. Isso é exclusão, não está incluindo ninguém. Inclusão é juntar todo mundo, criar nichos é exclusão.
Então, qual a melhor forma de dar espaço incluindo e não excluindo?
Admitir que existem esses nichos é politicamente importante. Não tem escritores afrodescendentes na literatura brasileira? Então junta quem está por aí e coloca na corrente da Literatura, como um todo. Por quê ninguém diz que o Machado de Assis é literatura afrodescendente?
O discurso do reacionário é que isso não deve ser levado em consideração, mas eu penso exatamente o contrário, as mesas devem ser compostas de forma plural. Quando fui curador em Mantiqueira, todas as mesas que fiz eram de vários nichos, mas juntos conversando sobre Literatura.
Além de fazer isso como escritor, como devemos exercer empatia como cidadãos?
Acho que o principal fator numa situação como a que o Brasil está hoje é não ter a ideia de coletividade, ser um país individualista. É curioso que, muitas vezes, até pessoas legais se emocionam com os problemas de outros países, mas não conseguem enxergar que do lado tem uma criança na rua.
É uma apatia que a sociedade brasileira vive em relação ao outro, e isso é preocupante, porque estamos perdendo a capacidade de intervenção social de mudança. Temos um país maravilhoso, que ao mesmo tempo é horrível. Continuamos dizendo que ‘o Carnaval não tem preconceito’. Brasil tem o maior índice de feminicídio no mundo, mais mata LGBT no mundo, um país racista.
Nossa autoimagem não combina com o que somos na verdade, vemos no espelho um Brad Pitt que a gente não é. O primeiro passo é esse, olhar no espelho e ver quem somos de verdade, um trabalho psicanalítico. Na psicanálise o processo de mudança é você admitir que tem um problema. Mas isso não é fácil.
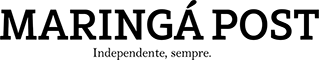


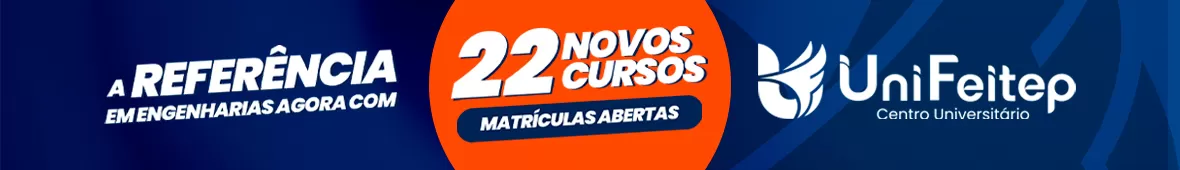



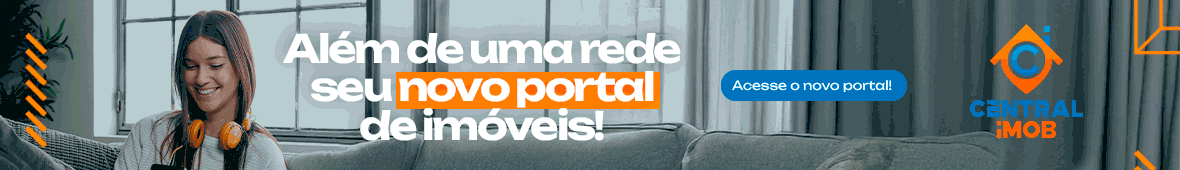

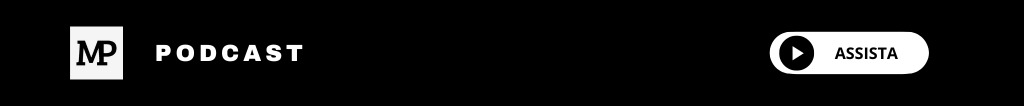
Comentários estão fechados.