Por Fernando Rodrigues de Almeida
Eu definitivamente não sou um antidemocrata. Ao contrário, sei que na conjuntura social que nos encontramos, fora da democracia parlamentar teríamos o fascismo – experimentamos uma pitada disso num passado recente – logo, nunca quis ser leviano com o modelo que nos é posto, porém, ao mesmo tempo, não me chame de inocente tentando fazer eu crer que a democracia parlamentar é purista e neutra.
Não, ela é uma ideologia que tem sobrenome: liberalismo. Agora quanto ao nome, atende por vários, uma legião de nomes, não por acaso os antigos teólogos políticos veriam a democracia como o anticristo, o que não é meu caso.
Na verdade, como já escrevi em outras oportunidade nesta coluna, talvez o maior problema da democracia parlamentar é se colocar como neutra – desde os iluministas – afinal o liberalismo se esconde em um ecossistema social que, como escrevi no texto “Não há espaço para nostalgia, pois de novo não há nada”, mostra a forma, mas esconde o conteúdo.
Na verdade, o liberalismo é uma ideologia, em termos de ciências humanas, ou seja, uma fórmula social de linguagem. Acontece que para uma forma que se reivindica neutra e formal há espaço para muita seletividade. Esse é um ponto preocupante.
O direito moderno é fundamento da democracia, por conseguinte, o direito moderno é liberal, tecnicamente o direito moderno se reivindica neutro, mas não é, e não é esse o problema que quero discutir, mas sim o fato, que como em toda ideologia suas bases de força se entrelaçam no convívio social.
Contemporaneamente temos o direito como uma parte fundamental das vidas, com isso sociologicamente o direito é um fundamento não só do Estado, mas também passa a se tornar uma realidade de vida, é como se uma ficção passasse a existir ainda que não existisse, é como se o conto de fadas passasse a ser sentido nas esquinas, é como se as vozes na cabeça da democracia surgissem com rosto e uma boca maior que a nossa própria.
Não mais sujeito de direito, mas também na pessoa se confundem no mesmo ente social. Não conseguimos mais diferenciar as ficções jurídicas dos fenômenos que experimentamos, o direito parece tão real quando pegar uma flor no jardim.
Nós, como entes sociais, temos essas relações, compreendemos elementos fictos como parte da nossa vida, e misturamos na nossa realidade.
Eis mais um problema, se direito é real, então ele é efetivo, de fato algo muito maior que o real. Sendo assim, como separamos a ideia de justiça e de direito? de direito e de vingança? de justiça e de interesse?
Há certas demandas jurídicas que passam a fazer parte do nosso dia-a-dia, da nossa narrativa cotidiana, da nossa linguagem social. Um desses fundamentos fictos de dever-ser que me chamou atenção é um, que ao que tudo indica, representa como ninguém a ideologia do liberalismo: a presunção de inocência.
Este direito fundamental se qualifica como um objeto universal de valor, apresentando-se na Constituição não como um princípio, mas como uma regra de cumprimento; não aparece como um mandamento de otimização, mas uma obrigação a ser integralmente cumprida.
Sua leitura não é interpretativa, é objetiva, em que afirma em alto e bom tom que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Entretanto, no plano social, não ficto, em que o que efetivo é real o termo “ninguém” nem sempre significa nenhum corpo. Se uma pessoa diz que o fulaninho, que não é ninguém, a fez vítima de um crime sexual, o fulaninho será prontamente odiado, rechaçado, perseguido, destruído; porém se a mesma pessoa, a mesma, diz que o cicranão, famoso jogador de futebol – aqui só em hipótese, sem relação com a realidade – a fez o mesmo ato, uma leva de cidadãos, cujo a mesma condenação aconteceu antes, agora saem em defesa, com o discurso da presunção de inocência.
Ora, ambos são presumidos inocentes, na perfeita democracia parlamentar nenhum seria considerado culpado antes de trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
O problema é que existem muitas nuances na pureza. Uma delas se chama reconhecimento. Um sujeito descartável não é nada perante ninguém, mas um outro sujeito, que eu reconheço como alguém que não pode ser nada ao qual eu não me reconheça, ele é meu espelho e não importa o que ele faça eu sou capaz de fazer, então se ele é criminoso eu também seria? Não, eu preciso de proteção, proteção da lei, que agora é sociedade, que agora é real, que agora é efetiva.
Lembra do texto desta coluna chamado “Extraterrestres, estrangeiros e o medo das entidades desconhecidas”? Meu maior medo é ser o sujeito que eu condeno, afinal eu sei como eu o condeno e sei que não quero ser condenado dessa forma. Por isso, agora, eu lembrarei da presunção de inocência.
Foto: Freepik
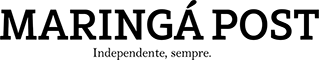

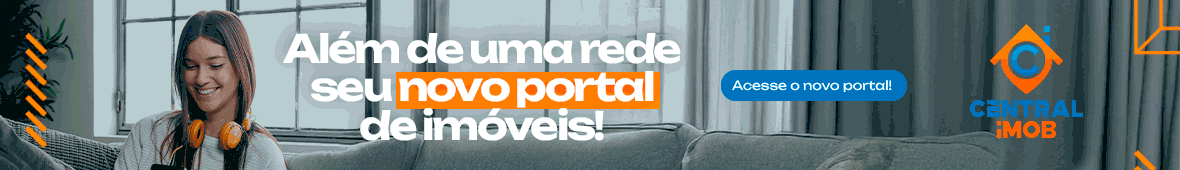


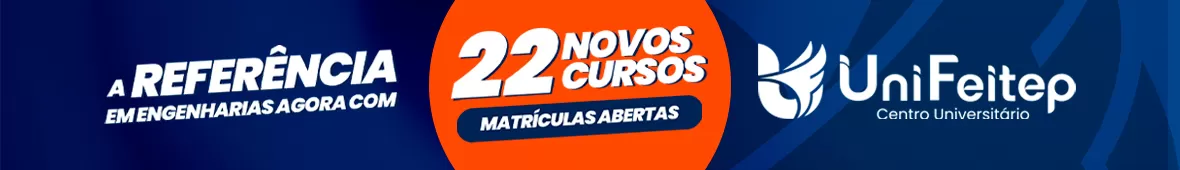


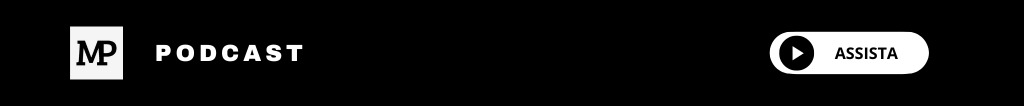
Comentários estão fechados.